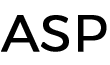Contos Normais, por Bórgia Ginz
Sonâmbulos
Acordei tarde. Abri a portada de madeira da janela do meu quarto e vi como a noite se aproximava: mais alguns minutos e nada mais haveria do que a própria escuridão. Um sono fácil ter-me-ia rapidamente feito tombar por sobre a cama de lençóis desfeitos, mas quis ver até que ponto ainda dominava os meus músculos, e em verdadeiro esforço dirigi-me até à sala e retirei o maço de tabaco do bolso do casaco. Nada era para mim mais importante, naquele instante, do que levar o cigarro aos lábios e acendê-lo, até me envolver todo de fumo cinzento que por certo me afagaria a face ensonada. O rádio estava ligado. Mas não ouvia som algum. Dir-se-ia que todo eu repousava no mais inerte dos pântanos, amenamente frouxo. Regressei ao quarto e tirei do guarda-fatos um par de calças. Como elas pesavam! Senti os dedos, todos enclavinhados naquele tecido poeirento, a rangerem como guizos ferrugentos, entorpecidos. Sentei-me na borda da cama e fiquei a olhar as manchas de humidade nas paredes do quarto. Os ombros dobrados, voltados sobre si mesmos, como se fossem peças defeituosas de uma máquina qualquer, pareciam querer deitar por terra todo o meu corpo mole e doentio, até tudo perder o seu significado e eu fechar-me no aconchego da minha própria solidão. O meu vazio não tinha matéria: perdia-se a vontade no sono da carne.Quando saí já a noite tinha inundado toda a cidade naquela ausência de luz que ilumina todas as coisas de uma forma mais pura. Caminhava pelo passeio, meio encostada às paredes dos edifícios, como se me precavesse de uma qualquer recaída que me fizesse desfalecer e cair. Os meus olhos perscrutavam em redor. Mas não viam nada. Toda eu repousava no mais inerte dos pântanos, completamente frouxa. Mas continuei, convencida de que estava a caminho. Observei as montras iluminadas em meu redor, cheias de luz a fazer-me cerrar os olhos e repletas de coisas inúteis que toda a gente vê mas realmente ninguém quer comprar. Apressei o passo. Senti-me impelida para a frente, em direcção a um desconhecido, tão desconhecido que no entanto eu sabia tão bem todos os seus contornos, a ponto de o ver bem à frente dos meus olhos. Gritei com todas as minhas forças; um grito sujo, imundo. Mas ninguém o chegou a ouvir: a voz entalou-se-me nos dentes, e dei comigo parada no meio do passeio, com a boca meio escancarada, asfixiada, desfeita pela angústia. Não! Não voltaria àquele sítio de maneira alguma. Não quero! Senti o quão baixo tinha descido, mas vi bem também como o meu sonho voltava a adocicar-me a língua com uma vontade tão livre que me senti forte, magnânime, única. Andei durante alguns minutos, pausadamente, desfrutando uma sensação que há muito me deixara. Até que me encontrei mesmo em frente àquilo que mais temia. A porta erguia-se alta e direita. Foi quando me apercebi que o grito estava sujo… de sexo.
Peguei no auscultador do telefone e lentamente comecei a marcar o número. Esperei alguns segundos. O sinal de chamada parecia-me distante, exageradamente longínquo, como se eu não estivesse ali; nem eu, nem o telefone, nem o mundo.
– Estou…, fez-se ouvir uma voz.
– Sou eu, repliquei, já pensava que não estavas.
– Não. Acordei há pouco e estava no quarto.
Peguei no telefone e aproximei-me da janela do meu sétimo andar, donde fique a observar as pequenas pessoas parecendo-me tão insignificantes, tão sem sentido.
– Também me levantei tarde. Hoje foi horrível. Ela não estava de acordo com nada do que lhe dizia. Discutimos muito.
– Vocês não podem continuar com essas coisas, interrompeu ele. A continuar assim prefiro nem me levantar.
– Eu já não controlo muito bem a situação. Bem vês, ela é minha mulher, só que… ela revolta-se demasiado.
– Compreendo… Quer dizer, não compreendo nada: eu já não lhe interesso?
– Sim, penso que sim. A situação é que a aborrece, e sabes como a noite apesar de tudo a impressiona.
– Mas ela vem ou não vem?
– Sinceramente não sei. Penso que sim. Provavelmente passará…
– Espera, estão a tocar, vou ver quem é…
– Depois volto a ligar. Adeus.
Ele desligou o telefone, ao que logo o segui. Voltei para a cama.
Ali estava ela. E eu continuava com a mesma sensação de dispersão, de ausência, parecendo mesmo que ela própria aumentava todo o meu mal estar. Olhei-a nos olhos e no entanto foi como se não a visse de todo, pois ela confundia-se com a minha própria sombra reflectida na parede. Quis dizer-lhe como gostava que ela estivesse ali, como tinha esperado todo o dia que ela aparecesse, mas não era verdade, e a cama ainda desfeita parecia não me deixar mentir. Ela disse qualquer coisa a que não liguei. O que teria sido: um cumprimento, um adeus? Sentei-me na poltrona e ali fiquei a olhar para ela, com o cigarro meio fumado entalado entre os dentes, com as pernas cruzadas em gesto de fuga. E foi então ela falou e eu ouvi tudo. «Olha, eu quero-te, todas as noites, noite após noite, sempre mais e mais, só que… eu não sou apenas um corpo, sinto as coisas quentes demais…» Não quis ouvir mais nada. Levantei-me, com as mãos trémulas cerrei as cortinas da janela do quarto, dirigi-me para a cama e sussurrei: «Despe-te…» Ela hesitou, e ali ficou com os braços pendentes como moribundos, semelhantes a corpos executados. O quarto estava agora cheio de um barulho ensurdecedor, vindo de todos os lados, dos locais mais escondidos e inalcançáveis. Eu não compreendia a origem de tanto ruído. Tinha desligado o rádio e de fora não vinha som nenhum pois a janela estava bem fechada. Num relance percebi a origem de tanto barulho: era ela que me dizia qualquer coisa. «Não faças isso, não assim, tenho medo de estar aqui contigo, de noite, só contigo. Eu quero estar contigo, mas de noite… também quero estar com ele, vocês…» A minha cabeça latejava, possessa de um silvo agudo nauseante. Senti-me submergir nas águas lodosas de um pântano, totalmente frouxo. Consegui chegar à sala. Levantei o auscultador do telefone e lentamente comecei a marcar o número.
O equívoco
Ali estava eu. Ofegante e completamente afundado na enorme poltrona do quarto encoberto em penumbra. O corpo dela jazia infielmente naquele pedaço torpe e cruel de mim, no meio do torpor obsceno dos lençóis em desalinho. Um fio de sangue sulcava a sua face esquerda, parecendo antes um golpe suave de baton que uma mão nervosa fizera perturbar a brancura da pele. Matei-a. Mas tive um bom motivo. Matei-a antes que ela me matasse a mim.
Nunca a amei de verdade. Era sempre ela que exigia uma certa auréola de maravilhoso a inundar a nossa relação, os nossos passeios, os nossos beijos supostamente inflamados. E eu olhava para ela e fixava os seus dois olhos asfixiados de tanta paixão, que não me restava outra hipótese que não a de tentar um amor que eu sabia impossível. No fundo, ela era uma mulher adorável que muito dificilmente eu conseguiria magoar. Tinha passado um ano desde o primeiro dia em que a vi, totalmente encharcada no meio do passeio a olhar o céu enegrecido, enquanto à sua volta uma multidão de pessoas se acotovelava para tentar fugir à bátega de água que se abatera subitamente sobre a cidade. Também eu não tentara fugir, de maneira que em breves segundos apenas eu e ela ficáramos ali, sem nada para dizermos um ao outro, mas felizes por não estarmos sós. Quando nos apercebemos estávamos os dois bem agasalhados a beber uns cálices de Porto, no aconchego do meu sótão. Descobri que ela estudava Ciências Biomédicas, no instituto superior da cidade, e que falava fluentemente francês. Não foi difícil combinarmos um encontro, delicioso, que tornou fácil um ainda outro encontro, e mais outro, e mais outro… O tempo passou e agora vivíamos num apartamentozinho que alugáramos. Não posso precisar como tudo se começou a precipitar. Apenas sei que um dia ela chegou ao pé de mim e me perguntou se poderia ir a uma festa com umas amigas. Eu conhecia todas as suas amigas, o que me fez achar a ideia interessante, pois já não era a primeira vez que fazíamos uma farra juntos. “Gostaria de ir sozinha!” Mas claro! Que ideia a minha! Era óbvio que ela pretendia ir sozinha!. Só que eu, no meio do mais estranho torpor, tinha partido do princípio que estava incluído nos seus planos. “Claro! Claro!…” Nessa noite não me senti na melhor das disposições, pelo que afastei a ideia de sair também. Tentei ouvir uns velhos discos que me pareceram extremamente enfadonhos. Não tardou a aparecer uma ligeira dor de cabeça. Tentei ler uns quantos livros que também não me interessaram por aí além. Sentia uma enorme náusea a percorrer-me o corpo; algo que me fazia tremer as mãos de uma maneira inconcebível, diabólica. Deitei-me na cama, onde permaneci durante horas, tempo em que não parei de me revirar de um para o outro lado, envolvido pela imensa escuridão do quarto que me apertava o peito. Não parava de pensar nela. O medo daquela solidão era bem mais forte do que o desejo de estar só. Não conseguia parar de pensar que fora derrotado por qualquer coisa que desconhecia, algo que tinha uns contornos completamente indefinidos, abstractos. E era exactamente o facto de não saber o porquê do meu choro que me confundia, ao ponto de me atormentar até aos cabelos. Tive que me levantar. E foi assim que saí. Tinha por todos os meios de encontrar uma paz que se me escapava. Talvez o frio da noite me restituísse o semblante ameno e calmo. Andei durante algumas horas, em que fui fumando os cigarros uns atrás dos outros, pois a caixa de fósforos tinha chegado ao fim. As minhas mãos pareciam possessas, dominadas por uma força, um nervosismo que não conseguia controlar. Tremia de frio. Ao longe vagueavam uns quantos bêbados, completamente embrenhados na sua loucura gratuita, alcoólica. Pensei que um copo me iria aquecer. Talvez o calor de um bar me confortasse por alguns instantes. Entrei no primeiro que encontrei. Encarei com dificuldade o tipo que estava à porta; ele olhou-me de cima da escada, e não sei porquê senti-me imensamente culpado, como se não tivesse o mínimo direito de entrar ali. Eu era um desesperado. Lembrei-me que já tinha estado ali, uma noite, com ela. A recordação bateu-me forte, atingindo-me bem dentro do crânio, e o mal estar chegou célere, sob a forma de um enjoo violento. Dirigi-me ao balcão e pedi um bock. Não foi preciso muito tempo para que me pusesse a olhar em redor, num verdadeiro esforço de a antever. É que tinha colocado desde logo a possibilidade de ela estar ali! Percebi então que não entrara naquele lugar, não tinha saído de casa e ido até ali por mero acaso. Vilmente, estupidamente, eu procurava-a! Acabei por vaguear pela cidade durante a noite inteira. Quando cheguei a casa amanhecia. Abri a porta muito devagar. Ela dormia, muito suavemente, completamente estendida na nossa enorme cama de casal.
Essa noite foi o início do meu declínio. Um declínio lento, muito lento, mas inevitável. Até que comecei a ver aquela mulher a assustar-me enquanto progredia nas suas pequenas coisas e todas elas me transmitiam o desengano do sentir. Os pequenos gestos começavam agora a tornar-se grandes afrontas, e tudo sempre em espiral, a crescer enquanto observava o tomar do café, ou o erguer da perna para a suave entrada no autocarro. Deitava-me sempre consciente do touro que se espreguiçava à minha volta, por todos os lados, que me lambia os cotos muito lentamente, com sevícias de puta rebuscada, longa, toda empanturrada na sua prolongação, no vício fremente de desavergonhada. E todas as noites comigo! De dia, perseguia-a. Mas de noite ela estava sempre comigo. E eu pus-me louco, até tudo sentir na espinha do meu cérebro, até a confusão começar a degradar-me o raciocínio e a acção. Entrara no labirinto do não-ser. Aniquilava-me. Até que tudo acabou na ponta de uma faca.
Foi só isso que aconteceu. E ali estava eu, sentado na grande poltrona. Levantei-me. Movimentei-me com dificuldade, a penumbra não me deixava reorganizar a ideia que tinha sobre o que acontecera ali, e com o mínimo cuidado saí.
Dei uns passos pela rua. A noite já tinha chegado há muito, pelo que não foi difícil ocultar-me dos olhos acusadores das pessoas. Também elas me exigiam razões. Mas ao mesmo tempo tudo me aparecia irrisório, cruelmente banal. Via agora como a realidade chegava até mim de uma maneira enganosa, sem propósitos de veracidade, como a fazer-me sentir culpado por ser eu e não outra pessoa. Olhei em redor, enquanto acariciava a faca ainda bem quente nos bolsos húmidos de sangue, no intuito de encontrar um rumo preciso por entre as pessoas, mas em vão: continuava tão indeciso como antes. Decidi entrar num café. Pedi café. A empregada sorriu-me, possivelmente como costuma sorrir a todos os clientes que entram, mas eu não era um cliente qualquer, e a sua face colou-se imediatamente à face de Ana, toda ali, sem sentido. Arrependi-me de ter entrado; afinal ainda não estava preparado para enfrentar a expressão das pessoas. O aspecto do líquido negro e quente que fumegava à minha frente não me agradava de maneira alguma, parecia-me exageradamente viscoso, e desejei com todas as forças que contivesse um veneno qualquer que me fizesse alhear de tudo, finalmente. Tomei o café. Por sinal até me soube bastante bem.
Quando saí estava possuído da mais pura angústia. No lugar do meu peito havia agora um imenso buraco, não um buraco vazio, mas um extremamente pesado, denso, como se tratasse antes de uma bola de chumbo aquecida ao rubro. As pernas estavam sólidas, petrificadas. Se espetasse uma agulha nos meus músculos decerto não sentiria nada. Era o fim.
Um indivíduo aproximou-se e pediu-me lume. Mal lhe via a cara, toda ela tapada pela mão que empunhava o cigarro nú e expectante. Procurei nos bolsos a caixa dos fósforos. Durante bastante tempo; os bolsos pareciam-me poços sem fundo. Acabei por encontrar a caixa e estendi-a ao homem. Foi a surpresa. Eu estava louco! Na minha mão estava agora a faca, reluzente, com algumas pingas de sangue a caírem por sobre o cigarro. Não acreditei no que vi e fechei os olhos, à espera da algazarra que se iria dar. Na minha cabeça um martelo fazia estalar os nervos como se estes fossem um sino de igreja. Esperei, sentindo já os braços vigorosos das pessoas que me iriam aprisionar. Mas nada aconteceu. Apenas ouvi um “Muito obrigado!”. Quando abri os olhos já o homem se tinha embrenhado na noite, completamente encoberto por uma névoa de fumo de tabaco.
Depois dessa noite, acabei por vê-la umas duas vezes mais, até que partiu para Madrid. Demorei algum tempo a aceitar a ideia de que ela me tinha trocado por outro.
Simplesmente calmo
Pedi o café. Sentei-me à mesa do fundo, no tasco, e esperei que ele chegasse. Era já a segunda vez que repetia esta acção automatizada nas últimas duas horas. Em diferentes sítios, com diferentes desconhecidos ao balcão a falarem enquanto comiam. Só que desta vez andei mais tempo pelas ruas à procura de um local agradável, percorri mais vielas e ruas desta cidade que eu conheço tão bem e que afinal nada me diz porque ainda procuro um novo local onde possa tomar o meu cafezinho sossegado. Por isto e por aquilo tudo sentime ligeiramente cansado. Depois de uma pastelaria, lógica me parecera a entrada naquela taberna, como encadeamento inevitável da queda de um homem que se sente sempre calmo demais. Sim. Porque tomo café, várias vezes ao dia, para ver se me enervo com qualquer coisa. Dizem que o café aguça os sentidos, põe os nervos em sobressalto. Vai daí, peço sempre um café de todas as vezes que saio à rua. Não posso afirmar seguramente quando foi que tomei este hábito como meu, certo é que já lá vão alguns anos. Remonta aos tempos em que ainda tinha vida, mulher em casa, casa onde viver, com televisão e radiofonia e esquentador para a água quente do banho. Mais precisamente tudo terá começado nos últimos tempos dessa minha existência pacífica e integrada. Devo até dizer que nunca fora grande apreciador de café, nunca o seu sabor amargo e torrado me parecera agradável. Mas agora, permaneço horas no café, a olhar para os outros enquanto me tento enervar.
Sempre fui muito calmo. Tentem lembrar-se de alguém conhecido vosso que seja extremamente calmo e imaginem que eu consigo ser ainda mais calmo do que ele. Esse problema sempre se revelou pernicioso durante a minha vida, na escola e mais tarde no trabalho, tanto que sempre foi encarado pelos outros como se de indiferença se tratasse. E isso não, indiferente é que não sou. Nunca o fui e nunca o serei, e desafio quem quer que seja para que venha dizer o contrário! Sempre cumpri o meu dever, e posso assegurar, coisa que muito boa gente não pode, que até o cumpri em demasia. A chatice vem de as pessoas nunca saberem o que se passa na cabeça dos outros. Não fosse isso e não me avaliariam tão ao de leve.
Mas estou-me a afastar do caso. O facto é que não estava ali apenas porque queria tomar café. Havia algo mais. Uma pessoa que eu perseguia há algumas horas e que entrara à minha frente tanto na pastelaria como no café, e das mesmas vezes pedira café, tal como eu. Era um homem de meia idade. Trazia vestido um sobretudo azul, e para proteger o pescoço do frio, um cachecol por sobre os ombros largos. Estatura mediana, cabelos desgrenhados e barba de vários dias. Vi-o pela primeira vez quando deixei o meu prédio, depois do almoço, quando me preparava para iniciar o meu habitual passeio da tarde. Seguia calmamente rua abaixo, com os olhos postos no chão do passeio, entretido com as suas divagações, apenas levantando o olhar para se desviar das pessoas. Foi numa dessas vezes que o seu olhar se cruzou com o meu. Esse instante não durou mais do que um segundo, pois logo ele se apressou a retomar o passo de olhos cabisbaixos, naturalmente. Segui-o. Não sei porquê, nada nele fugia da normalidade, no entanto não demorei muito a tomar a resolução de ir no seu encalço sem contudo me aproximar demasiado. Nada de grave, tendo em conta que não tinha rigorosamente nada para fazer.
Após alguns metros, depois de virar uma esquina, segui-o pela rua que leva ao Estádio de Futebol, que contemplou durante longo tempo. Começava eu a sentir o efeito da falta do café, pois a primeira coisa que normalmente faço mal saio de casa é ir ao cafezinho da frente e pedir um café duplo sem açúcar. Estava já pronto a avançar para a pastelaria que havia do outro lado da rua quando ele, antecipando-se lestamente, apressou o passo e ele mesmo atravessou a rua, muito
habilmente, por entre os carros, atingindo o outro lado. Entrou, e dirigindo-se ao balcão pediu qualquer coisa. O empregado trouxe-lhe um café. Entrei também, um bocado surpreendido com a evidência de ambos termos tido o mesmo impulso. Sentei-me na mesa que melhor me permitia observar os gestos do indivíduo, e esperei que o empregado atendesse o meu pedido. Tomei o café, ainda mais lentamente do que ele, permitindo-me estar ocupado enquanto ele pagava e se preparava para sair, coisa que fez logo a seguir. Deixei o dinheiro encima da mesa e saí para a rua quando ele já quase desaparecia por entre as pessoas que na altura enchiam os passeios. Mas não foi muito difícil alcançá-lo, pois ele caminhava realmente muito lentamente. Como se de calma fossem feitos todos os seus membros. O cachecol caia-lhe pelos ombros como se estivesse colado ao sobretudo, parecendo que sempre estivera ali, fazendo já parte integrante de todo o conjunto que representava o homem. Ele não parecia ter um rumo certo, caminhando ao acaso por entre as pessoas. Contudo, os seus passos eram determinados, e pareceu-me até ver os seus punhos crisparem-se a tempos, principalmente quando alguém mais distraído não o evitava e chocava com ele. Segui-o durante cerca de uma hora, sempre a uma distância razoável que me permitia não ser descoberto, e lentamente fomos abandonando a parte mais movimentada da cidade, vendo-se agora apenas alguns transeuntes que se entretinham a contemplar algumas lojas de vestuário e sapatarias. A dado momento o homem estacou. Do utro lado da rua caminhava uma senhora de idade de mão dada com um rapazinho novo, provavelmente
seu neto, que ia ouvindo com impaciência o que a velha senhora lhe dizia. Tratava-se de um raspanete relacionado com a escola. Notei que o meu homem se esforçava por ouvir a conversa. A dada altura o jovem começou a rir e a fazer caretas, o que lhe valeu de imediato um estrondoso estalo nas faces coradas. No preciso momento em que a mão enrugada da velha cortou o ar e atingiu o objectivo, a sua expressão abriuse num esgar de ódio incrível. Quando reparei no homem estava ele encostado ao muro e ria-se. Parecia agradado com o que via. Metendo as mãos nos bolsos entrou de imediato num café que ficava mesmo ali ao lado. Entrei também logo após alguns instantes.
E ali estava eu. Confortávelmente sentado num velho banco de madeira. O homem estava sentado também, a uma distância de três mesas da minha, mesmo em frente a mim. Tomava lentamente o seu café, erguendo suavemente a chávena à altura dos lábios entreabertos e corados. Na mão esquerda, pendente, segurava um cigarro aceso que ia fumando entre os sucessivos e breves goles. Que raio de maneira de se tomar um café! Um café deve-se tomar de um só fôlego, de rompante, de modo a provocar no estômago aquela sensação de explosão que nos faz sentir ligeiramente leves e pesados ao mesmo tempo. Aquele tipo não, fazia-lo como se fosse a última coisa, a mais preciosa coisa que fizesse na sua vida. Tanta calma
era deveras irritante, posso garanti-lo. Quase fiquei com vontade de me levantar e interpelar o sujeito, de forma a abaná-lo ao ponto de lhe revelar algum instinto mais violento. Olhei para o relógio. Já lá iam uns quantos minutos nesta extravagância. Decidi acender um cigarro, e embora já tivesse tomado o meu café há muito, comecei a imitá-lo, levando a chávena por várias vezes aos lábios, fazendo de conta que esta ainda estava cheia. Por momentos pareceu que
ambos tínhamos ensaiado a mesma coreografia. Que ridículo! Olhei-o bem nos olhos e esperei uma qualquer reacção. E eis que os seus lábios sujos de café se abrem num ligeiro sorriso de provocação. Ele estava mesmo a gozar comigo! Não era apenas uma questão de hábito, havia sem dúvida na sua maneira de proceder uma qualquer vontade de confrontação! Muito bem, de um pulo levantei-me e dirigi-me para ele; sem antes me ter lembrado de pousar a chávena desnecessária… A sua expressão em nada se alterou enquanto me aproximei. Quando fiquei a um passo dele estaquei e atirei-lhe:
– Será que me posso sentar?
– Claro!
E ali ficou a olhar para mim. Sentei-me. Estava eu a maquinar a maneira como iria abordar a questão que me incomodava quando ele tem nada mais nada menos do que esta tirada espantosa.
– Já pensava que não se decidia a vir.
Acendi outro cigarro. O tipo ficou sem resposta durante algum tempo. Convenhamos que era uma situação um pouco delicada.
– Normalmente, o meu tempo de reacção é proporcional á minha vontade de me mexer. Mas já que aqui estou, sempre lhe vou perguntando por que me motivo o senhor estava precisamente à minha espera. Penso não fazer parte do círculo das suas amizades.
– É um facto. Mas faz parte, sem dúvida, do círculo dos meus iguais. E a tendência é esses iguais juntarem-se, de forma a poderem existir como individualidade. É incontestável que os mortos vão todos parar ao mesmo “sítio”.
Perante esta frase respondi-lhe calmamente, pelo menos, aparentemente.
– Bem gostaria de perceber o que é que o faz pensar que sou um igual a si. Não será um pouco de presunção e acima de tudo ignorância da sua parte?
O indivíduo, sem tremer um pouco que fosse, respondeu prontamente.
– Não. É uma questão de observação. Não pense que hoje só você foi o observador. Devo dizer-lhe que você foi não só também o observado, como foi mesmo o iludido. Você, ao pensar que me seguia, não passou de uma presa que vivia na ilusão da caça. Mas não se preocupe. Não passa de um jogo que me deleita sempre que estou aborrecido; e que no fundo, teve sem dúvida origem no momento em que me apercebi que era um ser nefastamente calmo, e me decidi a usar isso em meu proveito. O jogo é muito simples. Saio para a rua, e muito discretamente, sempre sem revelar os meus verdadeiros propósitos, começo por procurar indivíduos que eu perceba que estejam nas mesmas condições. Depois basta espicaçá-los, até que um de nós se enerve e desista. Até agora saí sempre vitorioso. Tal como hoje, pois o senhor foi o primeiro a desistir. O prazer que me invade nesses momentos de glória é inimaginável. Sinto-me nessas alturas o ser mais qualquer coisa se um grupo imenso de seres semelhantes. Deve perceber que mesmo do saber-se que se é o tipo mais odioso à face da Terra se retira grande prazer. Posso dizer que até hoje nunca encontrei alguém que fosse tão calmo como eu. E nesse sentido, posso considerar-me superior.
Então sempre era verdade que aquele sujeito estivera a divertir-se à minha custa durante todo aquele tempo. Começava a sentir-me mesmo desconfortável. Ali estava mais um a considerar teorias e argumentos sobre a minha existência, sendo que não me conhecia rigorosamente de lado nenhum! E continuava…
– Eh! Eh! Amigo, olhe que a loucura está mesmo aí! Quer dizer, não precisa de se lamentar por ter sido derrotado mesmo sem o saber. Deve pensar que há momentos desagradáveis e pessoas que se deleitam em os procriar, e aí, dei-lhe uma novidade: também não é na mediocridade que o senhor se salienta!
Continuava sorridente, todo esticado na cadeira, cada vez mais inchado na sua magreza de réptil ou algo parecido. Pronunciava as palavras com aquela lentidão que se colara tão bem ao seu semblante quase mumificado, teso pela regularidade. E eu não dizia nada. E ele falava.
– Diga qualquer coisa, homem. Se quiser pago-lhe outro café. Se o senhor fosse homem de vinho pedia o encher do copo. Assim não, dou-lhe a possibilidade de um gole de café numa outra chávena. Magnífico! Como se esta outra possibilidade fosse o seu prémio de participação. Não é isto um jogo, ou como diria se hoje me sentisse poeta, a própria vida? Oh! E não pense nisto como uma esmola. Eu sei que para se reinar deve-se ter como leal conselheira a benevolência. Mas aqui não se trata disso. Deve pensar nisto antes como uma gota de água na língua do condenado pelo calor do deserto – os olhos dele reviraram-se lentamente – Que frase! Que poeta!
Pareceu-me extremamente fácil o movimento de elevar a cadeira. Quando esta lhe atingiu o crânio os olhos dele pararam de se revirar. Fez bastante sangue. Como nos filmes. O tipo era mesmo um fenómeno. Mesmo a cair aquele peso morto parecia um personagem de um filme em câmara lenta; vi distintamente, ao retardador, as três pancadas que a sua cabeça sofreu de encontro ao chão de mosaico da taberna.
Estalido.
– Bom, acabou a fi ta. Mas não precisamos de gravar mais nada; este depoimento já chega. Podem voltar a colocar-lhe as algemas e levem-no para a cela.
– Espero que tenham fi cado com uma ideia do que se passou.
– Sim, sim. Podem levá-lo.
SONO
Entrei na morgue no dia mais feliz da minha infância. Os braços esticados, em forma de sono, impeliam-me majestosamente em direcção ao desconhecido por que tanto ansiava, em formas estridentes de loucura suave e pacífica. Encontrava pela primeira vez o verme longínquo e latente que me atormentara a consciência durante tantos anos, e a calma dos meus ossos assombrava a quietude do meu andar seguro e pleno de convicção. Todas as dores nos lençois brancos sujos de mágoa que eu visitara no meio do meu sonho mais suave, desvaneciam-se agora sob o efeito de cada passo inclinado na escada sempre a subir do corredor que antecedia a porta alta e branca, de ferro lacado, pintalgada aqui e ali de manchas de ferrugem mais velhas do que eu. Os dedos hirtos e suplicantes, sonhando vozes de torturas carnais de odores intensos, faziam o prolongamento físico da minha pura e intensa vontade de me tornar crescente em direcção ao mais majestoso dos momentos por mim sonhados nas noites do meu sono quebrado. Eu via as lógicas capitais dos censos de perigo amortalhado, aqueles que eu criava e matava enquanto a língua atingia o ponto mais saliente da parede que normalmente se erguia à minha frente. Via os monstros alados que penoitavam simplesmente no encantamento mais subtil de uma noite vibrantemente engrandecida ao extremo da minha dor. Com toda a volúpia das mulheres que gritavam e chamavam pelo meu nome a dançarem de encontro ao meu corpo que se ia transformando em libélula gigante do tamanho de doze igrejas. Do sino da torre mais alta era executada uma balalaica de tempos imemoriais que me feria os ouvidos mas não o nariz, que é a parte mais preciosa do meu corpo celeste; em ondas azuis e vermelhas e verdes de conspiração que teimavam em desaparecer e que eu criava por entre os meus dedos para me divertir. Via o corpos meio antes d e serem aplainados pelo martelo de oiro fundido que surgia do ar numa elipse de contornos fantásticos e cruéis. E só a memória ficava plena de convicção e fúria, pois no assombro do sentir residia o sonho perdido de anos.
Assombrei-me de encontro à parede nua e fria. Os ruídos longínquos que chegavam até mim em ondas de som violento e esmagador diziam-me que me aventurara longe demais. O meu sexo endiabrado empolgava-se em demasia. Como se todas as mulheres de todos os mundos possíveis se consolassem de encontro aos meus membros inferiores e os fizessem prostrar no meio do maior alarido. Os olhos, bem enfiados no pedaço de luz que se esgueirava pela abertura semi redonda que à minha frente se erguia, perscrutavam e ansiavam pelo mais pequeno movimento, aquele que retinisse na base da nuca as vagas rimbombantes do meu adeus embriagado de choro. Não haviam duvidas, era tempo de entrar.
Senti um arrepio maravilhoso quando a palma da mão encontrou o frio da maçaneta da cor do oiro. Não foi difícil rodar um pouco o pulso. De olhos fechados, antevendo o sublime momento que se seguiria, ergui uma perna e entrei.
A escuridão foi a primeira opressão. O primeiro grito abafado pelo ranger de ossos, pelo primeiro rastejar de pés no chão poeirento, a inicial constatação do meu absurdo. Ladeei o que pareceia uma grande mesa, com a qual eu contaria dissimular o meu tresloucamento de choro, e ali me possuiria como besta anónima e sem sentido. Senti-lhe a calma precisa do ferro há muito forjado, ténue na escuridão do pranto que me assaltava as pálpebras, duro na sua projecção do inquebrável, e amei-lhe a existência suave de estética. A minha assembleia dir-se-ia pronta. O canibal eu, de sonho múltiplo no desvario, que baixava as argolas do tempo para poder deixar passar o acaso, ali me tomaria como centro do meu universo; ali tomaria as minhas entranhas nos braços, e as adoraria pelo sempre não. No meio dos passos o meu peito era total explosão. Tomara-se de proporções gigantescas, de material bruto, arrancado das pedreiras mais malditas. A vertigem das ondas do meu semblante progredia pelo meu corpo livremente, tomando-o ao de leve, sentindo-lhe a anti-gravidade, subindo-o para lá do alto, e na queda a acelerar o destravamento.
Foi na escuridão que peguei nas facas. Tudo tinha que ser rápido. A câmara lenta será o vosso julgamento. A lentidão das facas a penetrarem na carne. A lâmina afunda-se na carne como um verme languescente, pútrido de paixão, a contorcer-se na luxúria da Penetração suprema, a fazer ranger os tendões e os pedaços que dele se libertam, pequenas faúlhas envoltas em sérum viscoso, meio sangue de alquimia Bestial, que se espalha pelo resto do ventre, pelo meio do ventre até atingir as pontas, e a lâmina afunda-se na carne, enquanto o grito não vem, sendo ainda apenas inevitável. A moléstia das excrecências carnosas, no turvamento da hemorragia, progride pelo tempo anterior, realiza metamorfoses de asfixia, acerta-me no cérebro com a precisão de um piolho. Cravado no âmago da minha hiper-sensação. A lâmina afasta-se do canto do ventre e rasga o torax em chamas. revira-se sobre si própria, aninhada no caixão quente da carne. Um pouco para a esquerda. Um pouco mais. Agora um pouco para cima. Volta sobre si. Demónio entalado na puta. Como um cão tomado pelo nervo. E enterra-se mais.
A outra faca atinge-me o olho.